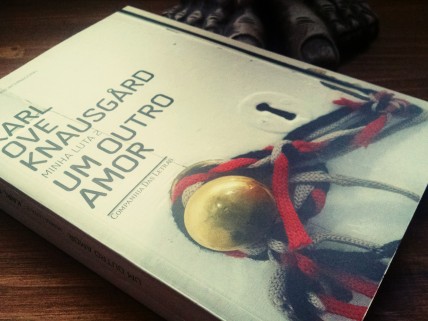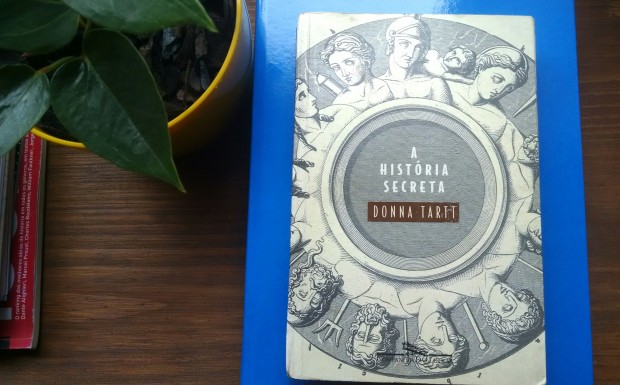Viktor Chtrum é um cientista judeu que vive na União Soviética. Ele segue trabalhando em plena Segunda Guerra Mundial. Com ele moram a esposa, a filha e a sogra. A vida não está fácil, mas há muitos soviéticos em situação pior. A mãe dele, por exemplo, que nunca se entendeu com a nora e mora em outra cidade, vive na pele a pior época para ser uma senhora judia na Europa. Em outro lugar, no mesmo período, alguns prisioneiros de guerra vivem uma vida tão difícil quanto a dos prisioneiros dos campos de concentração. Há também os presos longe da guerra, aqueles que cometeram crimes políticos ou comuns; para eles a situação também é ruim. Enquanto tudo isso acontece, mais judeus estão dentro de vagões de trem em direção ao extermínio. O clima é de sujeira, fome, frio, aperto e profunda desesperança.
Vida e Destino, de Vassili Grossman, fala sobre essas e outras pessoas, mas trata principalmente de uma era negra na União Soviética. Na altura da Segunda Guerra os líderes soviéticos travavam duas batalhas: uma com os alemães, que eram o inimigo externo, e outra com seu próprio povo. O Estado totalitário fazia com que todos desconfiassem uns dos outros; em busca da própria salvação, não era raro que um camarada denunciasse o outro como traidor da revolução. A suspeita pairava acima da cabeça de todos e frases bobas ou piadas infames acabavam em penas longas e reputações arruinadas. Mas Vida e Destino é mais que um compilado minucioso da vida sob o totalitarismo. O livro consegue analisar profundamente o mal através de vários pontos; o extermínio sem sentido, a paranoia mesmo entre amigos de longa data, a fome e a miséria: tudo é parte de um quadro em que o que se analisa é a humanidade e o que significa estar vivo e fazer o bem.
São 900 páginas de muito sofrimento e de passagens que me deixavam ora com desgosto, ora com desânimo. Eu podia sentir aquela maldade entranhada nas picuinhas políticas, mas inerente às pessoas. Admito que chorei em mais de um momento muito difícil, e acho que é impossível não sair cambaleando da leitura de Vida e Destino. São muitos os livros sobre as brutalidades e a barbárie das guerras, mas eu ainda não havia experimentado esse sentimento de perplexidade diante da tragédia que encontrei no livro de Vassili Grossman.
Vai ver o impacto acontece porque o autor viveu aquilo de perto, como correspondente de guerra. Mas o realismo das descrições da vida em um lugar, em uma determinada época, não foi o que mais me comoveu. O que me deixou espantada foram as intervenções de Grossman, a maneira como seu narrador se debruça sobre os acontecimentos para refletir sobre eles. Meu exemplar está todo rabiscado e minha vontade era transcrever aqui tudo o que me emocionou, como se com isso fosse possível convencer alguém a tirar o livro de uma prateleira e começar a leitura na mesma hora.

Qualquer livro sobre guerra não seria a minha primeira escolha de leitura. A quantidade de nomes de lugares e personagens deu um nó na minha cabeça. Eu comecei sem ter certeza de que iria até o final, mas aí bati o olho nesse parágrafo:
Os olhos dela, que tinham lido Homero, o jornal Izvéstia, Huckleberry Finn, Mayne Reid, a Lógica de Hegel, que haviam visto gente boa e gente má, os gansos nos prados verdes de Kursk, as estrelas no telescópio de Púlkovo, o brilho do aço cirúrgico, a Gioconda no Louvre, os tomates e nabos nas gôndolas dos mercados, o azul do lago Issik-Kul, agora não lhe eram mais necessários. Se alguém a cegasse naquele instante ela não sentiria a perda.
Foi ali que eu percebi que às vezes o que a gente tem que fazer é abrir o livro que não parece ter muito a ver com o que a gente quer de uma leitura. Eu não conhecia Vassili Grossman. Meu marido comprou o livro em 2015 e, assim que o terminou, começou uma campanha para eu lê-lo logo. Só agora em 2017, acompanhando o canal Lido Lendo, foi que eu soube que Vida e Destino havia sido escolhido para uma leitura compartilhada durante o mês de julho. Achei que era a hora de dar uma chance. Segui o cronograma estabelecido e adorei avançar no livro enquanto acompanhava a opinião dos outros.
Às vezes quando eu leio um livro de gênero eu penso naquela velha história de que sempre precisamos de uma dose de pré-disposição para encarar qualquer ficção. Afinal, é preciso boa vontade para comprar uma história e ler a respeito de monstros, vampiros, zumbis, magnatas de 25 anos solteiros e amorosos, fantasmas e toda a coleção de coisas que não aconteceram e nunca vão acontecer. Não importa o gênero. Se há muita invencionice, é preciso que a gente esteja disposta a encarar a leitura e fazer a tal viagem. Isso é uma das melhores coisas que a literatura proporciona, mas às vezes é bom e importante ler um livro que não demanda esforço da imaginação para que a gente entenda profundamente o que há de melhor e pior no mundo. O melhor e o pior estão ali representados, de um jeito preciso e profundo. Grossman investigou e revelou situações que não eram de conhecimento geral naquela época. Tanto quanto um livro como Doutor Jivago, Vida e Destino mostrou para o resto do mundo o tamanho do desastre que era a União Soviética. Se para encontrar isso um leitor precisa de certa dose de coragem, o que dizer do trabalho de quem escreve?
É impressionante a empreitada de escrever com tanta sinceridade em um momento tão perigoso. Para terminar, eu só queria deixar um trechinho desses que renovam o amor da gente pela literatura (lembrando que a tradução do russo é de Irineu Franco Perpétuo):
A história dos homens não é a batalha do bem tentando vencer o mal. A história do ser humano é a batalha do grande mal para reduzir a pó a semente do humanismo. Mas se nem agora o humano foi morto dentro do homem, então o mal não há de triunfar.